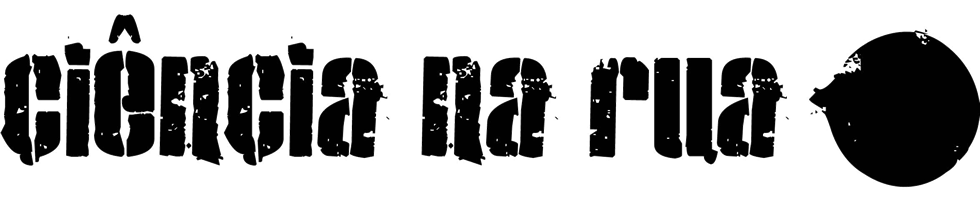Matheus Antonino Vaz
Jovens periféricos se sentem distantes de recomendações de cientistas e governantes e chamam atenção para iniciativas das quebradas durante a pandemia

Arte: Lucas Oliveira
Vem da ciência a esperança da cura e prevenção da covid-19 para quatro jovens da periferia de diferentes cidades do estado de São Paulo. “Uma hora poderemos voltar a viver normalmente”, disseram eles ao Ciência na rua. Há outro ponto em que todos os entrevistados concordam: governantes, cientistas e divulgadores científicos não conseguem conversar com a população das quebradas e demonstrar a importância do recado da ciência. Estão muito distantes da realidade da periferia e, considerando que hoje vivemos uma pandemia, precisam ser rápidos no aprendizado do diálogo.
Cientista é “alguém que tem curso superior, faz pesquisa e estuda bastante” – e que dificilmente é cria da quebrada. “O cientista entende a periferia, em tese, mas não tem vivência no ambiente da periferia”, diz Hudson Ribeiro dos Santos, 18 anos, aluno do 3º ano do ensino médio e morador no Conjunto Habitacional Vila Padre Anchieta, de Campinas, no interior de São Paulo. Para o estudante, ao mesmo tempo em que essa imagem do cientista passa uma “ideia de respeito”, também parece ser de alguém distante, meio desconectado do mundo em que vive.
Giovanna Rodrigues da Cruz, 18 anos, aluna do 3º ano do ensino médio, moradora do Jardim Novo Ângulo, em Hortolândia, cidade vizinha a Campinas, concorda com Hudson: “cientistas parecem ter uma imagem um pouco rasa do que acontece na periferia e uma má vontade em vir aqui conversar e entender”. Falar de um jeito mais simples, e falar sobre coisas que dizem respeito a uma realidade diferente da que vivem muitos cientistas é muito necessário. Para isso, “precisam de mais contato e convívio com o povo”, completa Hudson.
A pouco mais de cem quilômetros de Hudson e Giovanna, no Jardim Peri, zona norte de São Paulo, Eduardo Santos, 18 anos, também compartilha da visão de que pesquisadores não pertencem à realidade das periferias e, ainda mais, veem o que se passa na quebrada apenas como objeto de estudo. É o tal favelado que Criolo canta em Sucrilhos:
“Calçada pra favela, avenida pra carro
Céu pra avião, e pro morro descaso
Cientista social, Casas Bahia e tragédia
Gosta de favelado mais que Nutella”
Eduardo afirma que cientistas fazem um trabalho muito importante para toda a sociedade, mas não conseguem transmitir isso. “Precisam de mais empatia, mas estão extremamente longe daqui”, completa.
Wellington Amorim é jornalista, e se apresenta como “comunicador periférico”. Wellington tem 25 anos, vive no Jardim Ângela, zona sul de São Paulo, trabalha com produção de conteúdo audiovisual voltado para a periferia e também acredita que a quebrada ainda é vista por muitos cientistas como um mero objeto de estudo e não como um espaço onde se produz conhecimento. Ainda bem que isso, aos poucos, vem mudando. “Nos últimos anos, com a entrada de jovens das quebradas nas universidades, tem surgido um movimento de conectar os saberes populares ao conhecimento produzido na academia”, segundo Wellington. É uma maneira do “recém-formado”, da mesma música de Criolo, sair da posição de dono da verdade e aprender a valorizar o conhecimento da “benzedeira do bairro” e seu potencial para ser usado junto com a ciência:
“Di Cavalcanti, Oiticica e Frida Kahlo
Têm o mesmo valor que a benzedeira do bairro
Disse que não, ali o recém formado entende
Vou esperar você ficar doente”
Da união entre ciência e sabedoria popular podem sair medicamentos com origem em plantas medicinais. O aproveitamento do conhecimento que tantas avós e benzedeiras têm sobre essas plantas pode ajudar no tratamento de algumas doenças. A partir de pesquisas e experimentos, cientistas têm a chance de desenvolver produtos seguros e eficazes. Hoje em dia o Sistema Único de Saúde, o SUS, já oferece 12 medicamentos fitoterápicos – que são aqueles feito com base em plantas medicinais. A Aloe vera, que você deve conhecer como babosa, por exemplo, virou um remédio para o tratamento de queimadura, enquanto a Maytenus ilicifolia, mais conhecida como espinheira-santa, é usada nos casos de gastrite (aquela inflamação que causa bastante dor e queimação no estômago).
Esse processo, em que pessoas das comunidades e periferias vão entrando nas universidades, colaborando com a produção científica e ajudando na divulgação da ciência para as quebradas, demora bastante. E em meio a uma pandemia, o povo não pode esperar que cientistas aprendam a dialogar com a periferia. O que fazer, então?
As recomendações de isolamento que cientistas e governantes fazem na TV para a população, por exemplo, na visão de Wellington, não fazem muito sentido para quem vive em uma favela. No jornal, políticos e médicos orientam as pessoas a manter distância umas das outras, a ficar em casa, deixar parentes com suspeita de covid-19 em cômodos separados e evitar aglomerações. Afinal, diz ele, quando muitas pessoas moram em casas com poucos cômodos, que ficam em becos e vielas, muitas vezes sem nem um metro de largura, as recomendações dos especialistas parecem dizer respeito a uma outra realidade. Ficar em casa de quarentena não parece possível para quem precisa trabalhar, ou teve os R$ 600,00 do auxílio emergencial negados e tem que sair atrás de um emprego.
Para um povo que estudou a vida toda em escolas públicas de péssima qualidade, que é a situação da maioria das escolas das periferias, é difícil compreender o significado de conceitos técnicos como período de incubação, taxa de transmissão, achatamento da curva, os efeitos da cloroquina e tudo mais, não é?
Pensando em traduzir, facilitar essas informações e adaptá-las para o cenário da quebrada, várias iniciativas populares procuram construir uma ponte na comunicação entre cientistas e a população. Os coletivos de jornalismo Alma Preta, Desenrola e não me enrola e Periferia em Movimento, por exemplo, fazem o podcast Pandemia sem neurose. A Agência Mural, uma agência de jornalismo independente que cobre todos os bairros afastados da Grande São Paulo, tem um podcast diário, o Em Quarentena. Lideranças comunitárias em todo o país têm organizado grupos de WhatsApp para conscientização da população local.
Como sempre, prossegue o papo dos jovens entrevistados, os governos estão longe da periferia ou prestando um serviço muito ruim. “Se antes da pandemia, a única figura do Estado que a quebrada via era a da repressão policial, do postinho de saúde e da escola pública de péssima qualidade”, agora também tem a promessa do auxílio emergencial, que ajudaria nesse momento de tantas dúvidas e medo. Isolamento na quebrada é outra coisa, e envolve uma série de preocupações que não existem nos outros lugares. Wellington chama o trabalho de tentar organizar esses problemas de “gestão das urgências”. As pessoas, para pensar em isolamento, precisam resolver outras questões urgentes – como ter certeza de que vão ter o que comer em casa.
Na periferia muita gente não tem CPF, acesso à internet ou informação para conseguir se cadastrar no site da Caixa e conseguir o benefício – e é o próprio povo da periferia que está, assim como no caso da ciência, fazendo a ponte entre o quebrada e os governos. A Associação Cultural Bloco do Beco, do Jardim Ibirapuera, zona sul de São Paulo, em tempos normais organizava um bloco de carnaval e oficinas culturais. Agora, além de distribuir cestas básicas, também ajuda a conscientizar a população da quebrada sobre o coronavírus e no cadastro para conseguir o auxílio emergencial.
Em Paraisópolis, como o atendimento público de saúde é muito precário, o povo se organizou e criou um SAMU informal. A associação de moradores alugou ambulâncias e transformou duas escolas, que estão sem aulas durante a quarentena, em postos de saúde. Moradores voluntários viraram “presidentes de rua” e coordenam cerca de 50 vizinhos cada. Assim, conseguem identificar casos suspeitos e encaminhar para a coordenadora de ambulâncias, Renata Alves. Renata, inclusive, em entrevista para o site The Intercept Brasil, em maio, fez questão de avisar que a quebrada sempre se organizou e esteve fazendo por conta própria o que o Estado deveria fazer. “Nada do que vocês estão vendo aqui é diferente do que todos aqui já faziam. A diferença é que era sem holofote”, disse ao site.
A periferia passou muito tempo sendo objeto de estudo da ciência e sendo ignorada pelo Estado. Demorou bastante para haver uma preocupação da comunidade científica e dos governantes em manter um diálogo com as quebradas. Num momento tão difícil como esse, mais do que nunca, dá pra perceber a importância de todos terem acesso à informação e se mobilizar para fazer o que o governo deveria fazer, não é? Daqui pra frente, pelo menos, há esperança. Com o povo da periferia mais presente nas universidades e as iniciativas populares para facilitar o acesso ao conhecimento, pode-se esperar que, em breve, os cientistas dialoguem com a quebrada. É até possível que políticos, vendo a organização popular resolver problemas desde a falta de um posto de saúde, até decifrar o complicado cadastro do auxílio emergencial, aprendam um pouco com a quebrada. Basta escutar e aprender.
Este é o sexto artigo da série “Explicando a covid-19 para adolescentes”, produzida pelo Lab-19, projeto de divulgação científica de um grupo de alunos do curso de especialização em jornalismo científico do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Universidade Estadual de Campinas (Labjor-Unicamp), engajados, como tantos, em contribuir para a disseminação de informações corretas e confiáveis sobre a epidemia de covid-19 para públicos diversos. Confira os textos anteriores!
Afinal, o que é um vírus?
A origem do novo coronavírus
A batalha contra os vírus
Por que ficar em casa é a melhor maneira de controlar o vírus?
Mesmo vírus, realidades e consequências diferentes