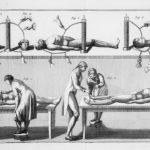País ultrapassa marca sem nenhuma promessa consistente de melhora no horizonte
Nesta quinta-feira, 25, a prefeitura de São Paulo informou que doravante os cemitérios da cidade ficarão abertos até as 22 horas, em vez de fecharem às 18 horas como de praxe, para que possam dar conta do aumento significativo no número de enterros. Na sexta, 26, começa um longo feriado até 4 de abril na capital paulista e em mais sete munícipios do Grande ABC – uma população total acima dos 22 milhões de habitantes –, enquanto cidades praieiras da Baixada Santista erguem barreiras contra a entrada de visitantes e informam que estarão em lockdown até o domingo de Páscoa, 3 de abril. Pelo país afora multiplicam-se providências similares, tomadas por governadores e prefeitos.
Essas medidas mostrarão resultados?
O Brasil ultrapassou na quarta-feira, 24 de março, a marca indecente das 300 mil mortes por covid sem nenhuma promessa consistente no horizonte de que conseguirá infletir a curto prazo essa macabra curva, em ascensão veloz há pelo menos três semanas. O remédio conhecido para detê-la, gestado nos fronts da ciência, é a combinação inteligente de vacinação acelerada e em massa com o efetivo distanciamento entre as pessoas, por meio do desestímulo legal às aglomerações e da imposição de redução drástica à circulação. Máscaras e demais medidas de higiene integram o pacote do distanciamento.
A diferença na velocidade da vacinação pode ser, mesmo num país desgovernado como é hoje o Brasil, um elemento chave para empurrar ou não a curva de mortes produzidas pela covid para baixo. E a verdade é que há um pequeno espaço para alento quando se verifica que os menos de 200 mil vacinados por dia de poucas semanas atrás avançaram para mais de 500 mil vacinados diários nesta quarta, 24.
A estrutura montada ao longo de muitos anos pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), insistem repetidamente ex-coordenadores como a epidemiologista Carla Domingues, tem capacidade para vacinar 1 milhão de pessoas por dia e até mais, e disso já deu sobejas provas em campanhas contra outras epidemias no passado.
Os gargalos a serem agora vencidos para o país voltar a esse desempenho são compra das vacinas num mercado internacional altamente competitivo e um verdadeiro planejamento nacional para execução ordenada das estratégias de vacinação. Isso equivale a dizer que só um sistema de pressão sem tréguas junto com uma estrutura paralela centralizada de comando do sistema nacional de saúde e de vacinação poderão neutralizar a insanidade que se espraia desde o Palácio do Planalto e instaurar uma certa racionalidade anti morte na planície. É disso que estão tratando governadores, prefeitos, um sem-número de lideranças políticas e de organizações da sociedade civil nesse momento, já que não conseguem (podem? querem?) atirar um traste mortífero ao lixo.
O outro elemento chave no enfrentamento da nossa tragédia em alta velocidade, o distanciamento, tem servido de combustível altamente inflamável para divergências políticas e pessoais incontornáveis no tratamento do tema – e isso deixando de lado, é claro, as sistemáticas atitudes, comportamentos e discursos da mais pura perversão emitidos pelo ocupante atual da cadeira de presidente da república.
A pergunta talvez mais repetida nesse mister é: por que o Brasil nunca fez e não faz um lockdown a sério, com suspensão temporária, por duas a quatro semanas, de todas as atividades não essenciais, como outros países, na Europa principalmente, fizeram? Por que todas as tentativas nesse sentido são meia boca, pastiches, encenação?
As respostas costumam ser evasivas e todas escudadas na razão econômica. Mesmo diante do colapso do sistema de saúde, com UTIs recusando pacientes à beira da morte por falta de vagas e doentes morrendo em ambulâncias e nos saguões de hospitais, asfixiados pela falta de oxigênio. Mesmo sabendo-se da experiência dramática de médicos e enfermeiros frente ao horror de entubar doentes sem anestésicos.
Há estudos bem recentes comparando os efeitos de um verdadeiro lockdown em Araraquara com a abordagem mais amena numa cidade próxima e similar em termos de composição populacional, como São Carlos, ambas no interior paulista, que dão vantagens claras para os resultados obtidos na primeira (voltaremos proximamente a isso). Mas isso não parece sensibilizar muito uma boa parte dos governantes.
Ninguém tem dúvidas de que tirar uma cidade como São Paulo de uma taxa de isolamento de 43%, que tem sido a mais constante nas fases restritivas do último mês, vermelha e emergencial, para algo entre 55% e 60%, que teria sabidamente um efeito sensível sobre taxas de adoecimento, internações e mortes por covid, em primeiríssimo lugar depende de uma renda emergencial. Tirar trabalhadores dos transportes públicos em que se aglomeram depende também de modo crucial dessa renda e da garantia de continuidade de suas atividades formais e não formais após o tempo de paralisação. Isso aconteceu no ano passado.
Não há muitos estudos sobre o que acontece nos transportes públicos quando a curva do adoecimento se acelera e quando algumas medidas parciais de restrição são tomadas. Numa conversa com uma diarista/faxineira que trabalha há muitos anos nesse segmento, ela disse que busca permanecer em casa, mas, nos dias em que não pode, tenta horários mais calmos dos ônibus.
“Eu trabalho em quatro casas, numa delas vou normalmente duas vezes por semana. Em tempos normais tinha cinco dias, às vezes seis dias de trabalho, às vezes duas casas no mesmo dia. Agora tenho só dois para uma mesma casa. Tomo dois ônibus na ida e outros dois na volta”, conta Maria Zelia Teixeira de Oliveira, 53 anos, moradora do Jardim Elisa Maria, na Brasilândia, zona norte da cidade, e trabalhadora entre Pinheiros e Sumaré, na região oeste, mais próxima do centro.
No ano passado, na primeira fase mais séria da pandemia, todas as empregadoras mantiveram o pagamento de suas diárias, mas não contou mais com os preciosos extras de fim de semana. A renda emergencial que começou a receber do governo já em setembro de 2020 ajudou a recompor uma renda média mensal de R$ 2 mil. Desta vez, com o recrudescimento da pandemia em janeiro, duas tomadoras de seus serviços disseram que ficasse em casa que elas manteriam o pagamento. Uma terceira a dispensou e a quarta a manteve no trabalho. Um auxílio governamental de apenas R$ 150 que agora talvez seja o concedido, “não vai dar para nada”.
Zélia mora com a mãe de 78 anos, já vacinada, um irmão um pouco mais novo que ela própria que trabalha como azulejista na construção civil, “mas ele tem um carro, não precisa tomar ônibus” e, por alguns períodos do ano, com o pai também de 85 anos, já vacinado. “Ele se alterna entre a roça, no sul da Bahia, e a casa da gente, aqui em São Paulo”, conta.
Ela pega o primeiro ônibus na Brasilândia às 7:30, “é um horário mais tranquilo, tá menos cheio. Tomo o segundo, dá para ir sentada, e umas nove horas chego no emprego”. Na volta é melhor ainda, porque deixa o serviço às 15:30 e nesse momento os ônibus são vazios. “Sempre espero outro ônibus se achar que está cheio demais”.
“Agora eu uso duas máscaras, uso álcool em gel quando passo de um ônibus para o outro, quando chego na casa da pessoa vou direto para o banheiro lavar as mãos, trocar a roupa e a máscara, e tá tudo certo”. Zélia conta que a maioria das pessoas nos ônibus nesses horários em que os tem utilizado é de mulheres. “Dá para ver que trabalham em casas de família ou nos mercados. Os homens não sei em que trabalham”.
Zélia espera com muitos cuidados e muita fé (é fiel de uma igreja neopentecostal) não ser contaminada por covid e, até aqui, a aposta vem dando certo. É um pouco dessa forma que vão levando a vida à frente os trabalhadores que se aglomeram nos transportes públicos de São Paulo e deste país.