Desde a publicação de A dança do Universo (Cia. das Letras), que se tornaria um best seller da divulgação científica e vencedor do prêmio Jabuti em 1998, o físico carioca Marcelo Gleiser, de 60 anos, é convidado a explicar por que seus livros tratam de ciência e religião. Em sua última passagem pelo Brasil – ele vive há 28 anos nos Estados Unidos – não foi diferente. Gleiser esteve no país em julho para lançar O caldeirão azul (Record), que reúne artigos publicados na imprensa brasileira e norte-americana. A programas de TV e de rádio, disse que a ciência tem um componente espiritual, ao evocar a atração pelo mistério que inspira o trabalho de muitos cientistas. “Vejo a ciência como produto da nossa capacidade de nos maravilhar com o mundo. Na sua essência, encontramos o mesmo ímpeto que move o espírito religioso: como lidar com nossas questões existenciais mais profundas”, escreve no novo livro.
Professor do Dartmouth College, em New Hampshire, Estados Unidos, Gleiser foi, em maio, o primeiro latino-americano a receber o Prêmio Templeton, uma honraria similar ao Nobel, dedicada ao diálogo entre ciência e espiritualidade, que já foi concedida a figuras como Madre Teresa, Dalai Lama e cientistas, entre eles o físico francês Bernard d’Espagnat (1921-2015) e o cosmólogo sulafricano George Ellis (1939-).
Ao aproximar ciência e religião, Gleiser tem um objetivo concreto: atrair novos amigos para a ciência, em vez de inimigos. Trata-se de estabelecer diálogo com pessoas que têm uma visão religiosa da vida, para entenderem que a ciência faz parte da vida delas e que os cientistas não querem “matar Deus”, disse em entrevista concedida ao Ciência na rua. Na conversa, Gleiser falou da importância da divulgação científica em tempos de ataques a instituições de pesquisa no Brasil e como combater visões anticientíficas que se disseminam na sociedade.
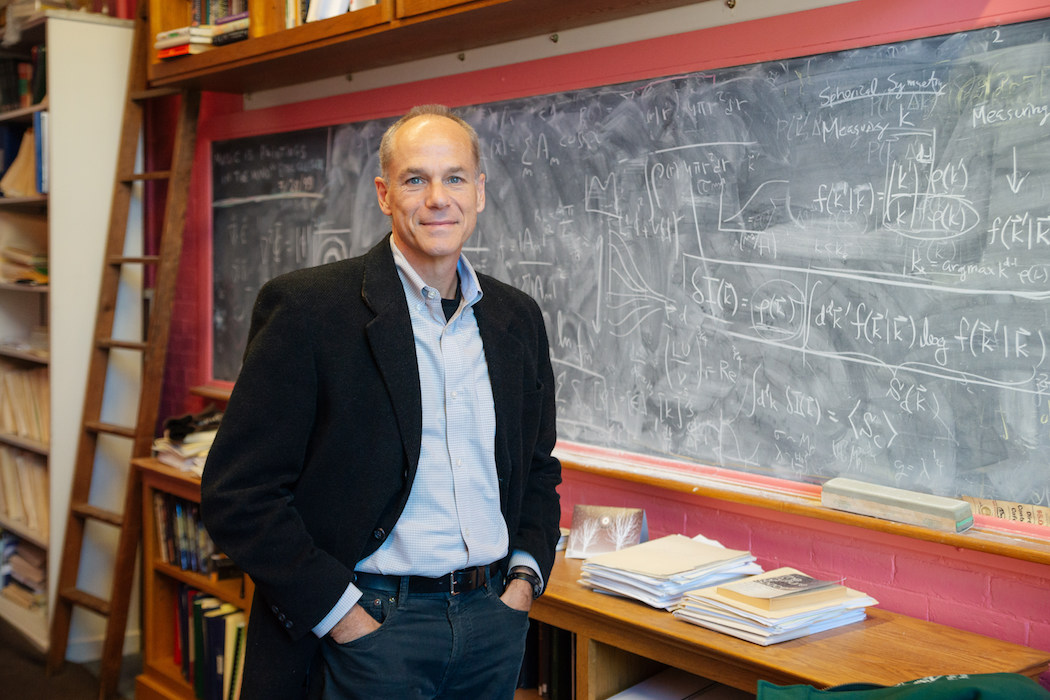
foto: Dartmouth College/Eli Burakian
Existe um esforço da comunidade científica global para tornar a ciência mais ética, transparente e confiável. Há iniciativas internacionais para coibir abusos e disponibilizar dados primários coletados em experimentos, para que outros cientistas possam verificar a precisão e a relevância dos resultados de estudos. Mas paralelamente a isso, há um movimento crescente em vários países, entre eles Brasil e Estados Unidos, de governos que desqualificam informações científicas e desacreditam instituições de pesquisa. Como você vê essa questão?
Penso que a raiz desse problema está na manipulação de informações científicas por grupos de interesses econômicos e políticos. Quando você transforma dados científicos em temas de debate público, abre-se espaço para uma série de problemas. Veja, por exemplo, o caso do aquecimento global. É um assunto essencialmente científico, mas que se tornou alvo de discussões fora do âmbito da ciência. Há milhares de cientistas do mundo inteiro que analisam dados coletados em várias partes do mundo, em diferentes altitudes, utilizando modelagem computacional sofisticada. Isso resulta em informações sólidas sobre mudança climática, com previsões que, em boa parte, já estão se realizando. Evidentemente, essa pesquisa tem impactos econômico e político enormes. Quando os cientistas falam que é preciso parar de usar combustíveis fósseis, as indústrias tratam de proteger seus negócios. Com o tempo, grupos políticos e empresariais criaram uma espécie de ambiente cultural, do qual a mídia faz parte, em que recomendações feitas a partir de observações científicas podem ser confrontadas meramente com opiniões, como em uma conversa de bar.
Como assim?
Abre-se a possibilidade para que os dados apresentados pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas [IPCC] sejam confrontados com opiniões e achismos. Se dez céticos da mudança climática criticam o trabalho de dez mil cientistas que denunciam os efeitos da ação humana sobre o clima, o trabalho desses dez caras vai ser assunto na esfera pública e na mídia. Penso que, nesses termos, a ciência não é mesmo democrática, porque se você tem uma questão científica, o que valem são os dados, não as opiniões sobre os dados. Porém, as indústrias do setor de combustíveis fósseis conseguiram transformar essa conversa sobre aquecimento global em assunto meramente opinável, e isso, infelizmente, é abraçado por pessoas que não entendem gráficos, estatísticas e o que é uma previsão estatística. O que me preocupa é que esse tipo de atitude anticientífica elegeu governos no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa. Fazem com que informações científicas sobre a destruição da Amazônia e de outras reservas florestais vire assunto de debate, de conversa, como se fosse uma questão de ter uma opinião diferente das dos cientistas. Isso é um absurdo e é o que está acontecendo, infelizmente.
O que se pode fazer diante disso?
A ideia de que os dados pudessem causar medo nas pessoas se mostrou falha. Há milhares de artigos e livros falando que a humanidade está destruindo o próprio futuro e, mesmo assim, não há uma comoção global. Tem de haver outra forma de sensibilizar as pessoas e convencê-las de que esse assunto é grave e nossa atitude individual precisa mudar. Talvez a estratégia que tenha mais sucesso seja essa de convencer as pessoas de que cada uma tem um papel, cada uma pode ser um “soldado revolucionário” para o futuro, e não ficar esperando que governos e corporações façam as mudanças – obviamente isso não vai acontecer. Cada pessoa que está interessada no futuro de seus filhos, sobrinhos, netos pode fazer uma diferença. O último relatório do IPCC, divulgado na primeira semana de agosto, diz que a coisa mais importante que o indivíduo pode fazer para contribuir para coibir o aquecimento global é tentar diminuir o consumo de carne. Em vez de comer carne todo dia, coma uma ou duas vezes por semana, por exemplo. Mas no Brasil e em outros países do mundo as pessoas não entendem a conexão entre aquela carne empacotada no supermercado e a catástrofe ecológica causada para produzir aquela carne. Os cientistas precisam ajudar as pessoas a entender essa relação. Parte do meu trabalho é fazer isso.
E qual a importância da divulgação científica nesse cenário?
É ajudar a educar o consumidor. E a internet tem um papel central e preocupante nisso. Ela é responsável por um efeito de funil na sociedade. Por exemplo, uma pessoa decide pesquisar o que é essa história de Terra plana e aí começa procurar informações no YouTube. Com o tempo, o algoritmo do YouTube vai sugerindo mais e mais vídeos sobre Terra plana, e aí a pessoa entra num funil e só recebe informações baseadas no discurso terraplanista, deixando de ter um pensamento crítico. O que falta para as pessoas que acreditam em Terra plana ou curas quânticas é simplesmente informação de qualidade. Isso tem que ser trabalhado pelas escolas e no engajamento dos cientistas com as comunidades das quais fazem parte. Por exemplo, a Universidade Federal do ABC (UFABC) tem uma atuação local na região do ABC paulista [que abrange os municípios de Santo André, São Bernardo e São Caetano]. Cada universidade tem uma área de atuação local, e isso é importante para promover iniciativas educacionais e de divulgação científica com a população do entorno. Isso é fundamental para que os consumidores tenham o mínimo de pensamento crítico na hora de ir ao mercado e para discernir o que é besteira do que não é besteira no momento de consumir informações na internet. É um trabalho monumental e extremamente importante.
Por que é oportuno falar dos limites da ciência e da dimensão espiritual do conhecimento mesmo em um momento de forte ataque à ciência no Brasil? Qual a contribuição desse debate para aproximar as pessoas da ciência?
Existem motivos políticos e econômicos para esse ataque à ciência, obviamente. Minar a credibilidade da ciência é essencialmente permitir que os abusos ecológicos e climáticos sejam feitos. Uma das maneiras de convencer a população disso é por meio da ignorância. Quanto menos as pessoas sabem, mais elas são manipuláveis. O meu trabalho tem dois pilares. Um é a aproximação da ciência com a religião e o outro é a divulgação da ciência em si. Tento fazer as duas coisas ao mesmo tempo, o que considero uma abordagem estratégica que consiste em dizer às pessoas: ciência e religião não são inimigas. Se você é uma pessoa religiosa, não precisa tratar a ciência como inimiga, muito pelo contrário. As duas culturas têm aspectos complementares, de como a gente tenta entender o mundo e as nossas vidas.
Mas quais os méritos dessa abordagem?
Com isso eu tento ganhar amigos, ou seja, aproximar as pessoas que têm uma visão mais religiosa da vida, para entenderem que a ciência faz parte da vida delas e que os cientistas não querem “matar Deus”, como costumo dizer. À medida que faço isso, também explico conceitos da ciência. Por essa razão, é uma estratégia de aproximação que tem uma função educacional e cultural, obviamente, mas que também é uma estratégia quase política, no sentido de ganhar amigos para a ciência, e não inimigos. Uma das coisas que precisamos fazer para ganhar novos apoiadores da ciência é mostrar que a pesquisa científica não é infalível. Ninguém quer ser dominado e controlado por uma ciência infalível, materialista em geral, a menos que você já seja um ateu bem esclarecido. É importante mostrar que existem limites para a ciência.
Você encontra muita resistência dentro da comunidade científica em aceitar essa sua visão?
O que infelizmente acontece é que, quando falo dos limites da ciência, as pessoas acham que estou criticando a ciência. Para mim isso é um problema, porque na verdade estou tentando fazer o oposto: aproximar a ciência das pessoas, humanizá-la. A ciência é uma atividade humana e nós não somos perfeitos e, por isso, a ciência certamente não vai ser perfeita. O que ela tenta fazer é descrever da melhor forma possível como o mundo funciona. Isso cria uma visão de humildade na ciência. Os cientistas não podem se apresentar para a sociedade como pessoas arrogantes, que sabem tudo. Portanto, não critico a ciência em si, mas como certos cientistas apresentam a ciência, como algo que tem resposta para tudo e é infalível.
Qual o problema disso?
Esse tipo de visão é muito perigosa, porque não é realista e coloca uma certa carga emocional ao postular que todos os problemas do mundo podem ser resolvidos apenas com ciência e tecnologia. Esse tipo de confiança extrema na ciência pode levar a um certo comodismo da sociedade, do tipo: “não precisamos nos preocupar, porque os cientistas vão dar um jeito”. Quanto a críticas de colegas, recebo muito poucas. Acho que tenho uma credibilidade bem sólida no meio científico, como físico teórico. No Brasil, não ouvi críticas diretas a mim; nos Estados Unidos, eu não diria que tem uma crítica direta, mas tem alguns ateus que me condenam por eu criticar o ateísmo radical. Trata-se, porém, de uma guerra mais ideológica do que qualquer outra coisa. Fora isso, nunca fui acusado de fazer um desserviço para a ciência ou atrapalhar o trabalho de outros pesquisadores. Quem lê meus livros sabe que não ataco a ciência, pelo contrário: faço praticamente uma apologia da ciência. Deixo claro que a ciência é o melhor modo que temos para não sermos enganados por movimentos antivacina, terraplanistas ou terapeutas quânticos, por exemplo.
De maneira geral, os brasileiros confiam na ciência, conforme mostrou uma pesquisa de percepção pública da ciência divulgada em julho pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE). Cerca de 73% dos entrevistados se disseram otimistas em relação à ciência. Ao mesmo tempo, porém, 90% não souberam mencionar o nome de um cientista e 88% não foram capazes de dizer onde se faz pesquisa no país. Como você interpreta essa informação?
Esses dados contam uma história de total ignorância da ciência brasileira pela maior parte da população do país. Não se conhecem os cientistas que estão trabalhando hoje nas universidades nem o que eles pesquisam. Também sabem pouco das calamidades que estão sendo cometidas, atualmente, contra a ciência brasileira. Os cortes no orçamento para ciência e educação, por exemplo, são uma tragédia. Mas não se explica para a população em geral a dimensão desse problema. Acredito que, desses 73% dos entrevistados que se dizem otimistas em relação à ciência, nem 20% devem saber o que realmente está acontecendo. Isso é indicativo, primeiramente, de uma falha da comunidade científica brasileira ao tentar se comunicar amplamente com a população. Raramente temos alguma iniciativa nesse sentido. Recentemente, o professor Luiz Davidovich, que foi meu professor de mecânica quântica e é uma pessoa que adoro, fez um discurso espetacular como presidente da Academia Brasileira de Ciências, mas quem viu isso? São manifestações que ficam restritas à comunidade acadêmica. Falta, na minha opinião, um movimento de organização dos cientistas brasileiros para entrarem em contato com a população brasileira de forma mais intensa.
Hoje há um movimento crescente de divulgadores de ciência em canais do YouTube, em podcasts e nas mídias sociais.
Sim, mas perceba que, na maioria dos casos, esses youtubers são jovens em início de carreira ou que já abandonaram a pesquisa para se dedicarem exclusivamente à divulgação científica, como o Átila Iamarino [do canal Nerdologia]. É uma moçada competente, que tem se esforçado bastante. E mesmo youtubers como o Felipe Neto [cujo canal tem mais de 33 milhões de inscritos], que não se dedicam à ciência, têm falado sobre ciência nos últimos tempos. O problema é que, salvo raríssimas exceções, não vemos cientistas de renome no Brasil falando de forma ampla com a população, indo a escolas, aparecendo em programas populares de televisão para mostrar o que fazem. Isso só ocorre quando estoura uma grave crise como a de hoje. Aí vemos circular na internet vídeos com cientistas renomados avisando a população que sem ciência não há desenvolvimento econômico e social.
Há o fato de a imprensa não dar muito espaço para a ciência, não?
Sim, a mídia brasileira presta pouquíssima atenção para a ciência feita no país. Eu me lembro que as séries que fiz no Fantástico, da TV Globo, há mais de dez anos, tiveram grande audiência, mais de 30 milhões de pessoas assistindo. Isso mostra que, na verdade, não há falta de interesse da população, mas sim falta de veiculação de conteúdos de ciência na mídia, porque existe essa ideia de que ciência não vende. Não há colunas regulares de ciência nos grandes jornais. A minha coluna na Folha de S.Paulo foi extinta e aquele espaço não foi ocupado por outros cientistas. Isso é um problema, é o casamento da falta de intenção da comunidade científica brasileira de se comunicar mais com a população com o pouco espaço dado pela mídia à divulgação científica. Evidentemente que a imprensa não é a única maneira de alcançar públicos amplos. Eu tinha um plano junto com o [ex-senador] Cristovam Buarque de submeter ao Congresso uma lei estabelecendo que todo bolsista de qualquer agência de fomento, estadual ou federal, teria que, pelo menos uma vez por mês, falar por uma hora em uma escola pública de sua região – mas o projeto não deu sequência em Brasília.
Atividades de divulgação científica, como ter um canal de ciência no YouTube ou escrever uma coluna em um jornal, ainda são pouco reconhecidas pelas instituições de pesquisa e agências de fomento no momento de avaliar a produção acadêmica dos cientistas e lhes conceder bolsas e incentivos. Nos Estados Unidos essa visão tem mudado, os pesquisadores são mais valorizados se também aparecem na mídia. Como você vê essa questão?
Realmente há diferenças na forma como pesquisadores são recompensados nos dois países. Nos Estados Unidos, para que o pesquisador conquiste uma bolsa de órgãos como o National Science Foundation [NSF, principal agência de apoio à pesquisa básica dos Estados Unidos], os Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos [NIH] ou a Nasa [a agência espacial norte-americana], é preciso que ele ou ela apresente um projeto de divulgação científica, mostrando como pretende explicar seu trabalho para o público. Por exemplo, você pode sugerir que seus alunos de doutorado, que serão financiados pela bolsa, vão dar palestras para museus de ciência ou escolas da região. Apresentar uma proposta dessas faz parte do pedido de bolsa, e se candidato não inclui isso no projeto de pesquisa submetido, ele não está apto a ganhá-la. Essa mentalidade ganhou força nos últimos 20 anos nos Estados Unidos e na Europa. Essencialmente, quem está pagando as pesquisas é o contribuinte, o dinheiro para os projetos de ciência vem dos impostos pagos pelos cidadãos. Então, se você não justificar para a população porque a ciência vale a pena, por qual motivo as pessoas deveriam se sentir obrigadas a sustentar a pesquisa científica? Já no Brasil, a divulgação científica ainda não é vista como parte da política científica. Salvo raríssimas exceções, as agências de apoio brasileiras não exigem que seus bolsistas coloquem em prática projetos de divulgação.
Exige-se que os pesquisadores publiquem todos os anos em revistas científicas de qualidade.
De certa forma, aqui nos Estados Unidos também. Se você não estiver publicando um número razoável de artigos científicos por ano, sua avaliação não será das melhores. Porém, em cima disso tem essa visão de que a divulgação científica também é fundamental, mesmo que tome tempo do pesquisador. Entende-se que é uma atividade de função social e educacional muito importante. Essa compreensão ainda não está difundida no Brasil.
Diversos países, entre eles o Brasil e os Estados Unidos, têm se preocupado cada vez mais em apoiar pesquisas que tenham impacto na sociedade, direcionadas a resolver problemas concretos da sociedade. Essa visão coloca em risco o apoio à pesquisa básica ou às ciências sociais e humanidades? Como você, um físico teórico, vê essa questão?
Penso que é essencial que a gente dedique recursos para que a ciência seja útil para a sociedade, isso é óbvio. Não dá para ficar sempre especulando sobre assuntos que são extremamente abstratos. Isso não quer dizer que não haja relação entre as duas formas de fazer ciência. A pesquisa aplicada depende muito da pesquisa básica. Mesmo que o pesquisador esteja especulando sobre coisas que aparentemente são estranhas, como buracos negros, multiversos e supercordas, esse tipo de pesquisa leva a reflexões sobre a natureza da matéria, do espaço, do tempo e da energia, que podem ou não levar a grandes descobertas em física aplicada. Mas felizmente – e isso é muito importante – o número relativo de bolsas e de dinheiro direcionados à pesquisa básica é muito menor do que é dado a pesquisas mais aplicadas. Por isso, não vejo que haja risco de a ciência mais teórica não ser mais financiada pelos governos. É claro que você não pode, por exemplo, pegar os recursos de pesquisa da Fapesp [Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo] e dedicar 80% a teorias extremamente abstratas e básicas, mas se pode encontrar um equilíbrio: por exemplo 20% para coisas mais abstratas e 80% para estudos mais imediatos, voltados a resolver problemas da sociedade. [Atualmente, a Fapesp investe 57% de seus recursos em pesquisas com vistas a aplicações, 38% em pesquisa básica, voltadas para o avanço do conhecimento, e 5% ao apoio à infraestrutura de pesquisa].
Os temas que você costuma abordar passam por questões existenciais, como a origem da vida e do universo. Como atrair a atenção das pessoas para assuntos tão filosóficos ou mesmo distantes dos problemas cotidianos?
Esse é o grande desafio. Nesse sentido, acho que as mídias sociais ajudam a enfrentar esse desafio, porque elas servem como isca. Em meu canal no YouTube ofereço um curso de dez aulas, das quais já lancei seis – cada uma com oito minutos de duração. Ele se chama O caminho do bem viver, e digo que em vez de ser um curso de autoajuda, chamo de “alta ajuda”, porque é uma ajuda de alta qualidade [risos]. A cada dez mil novos seguidores que o canal recebe [já são mais de 65 mil inscritos], eu divulgo mais uma aula. E dá um trabalho enorme gravar esse conteúdo, porque exige roteiro, gráficos, músicas. E por que faço isso? Porque nessas aulas eu não só mostro minha visão de mundo, mas instigo a vontade das pessoas de aprender, despertando nelas uma espécie de apetite intelectual. E nesse meu trabalho mostro que a ciência tem um lado existencial, não se trata só de fazer chips de computador. A ciência, assim como a religião, também se dedica a questões profundas, que interessam a humanidade há milhares de anos.




