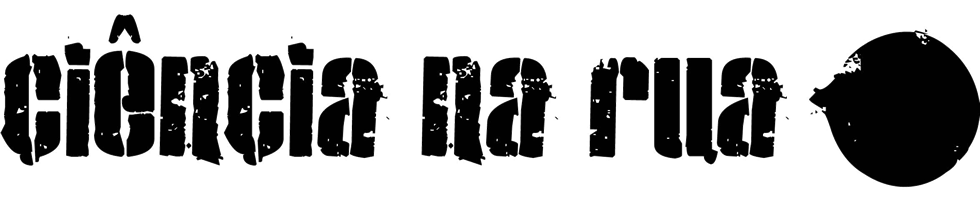Este texto é um publieditorial
Mobilização para doações acontece no dia 1º de dezembro

O próximo domingo, 29 de novembro – atenção! -, é dia de votar, fato necessária e largamente sabido por quase toda a população brasileira. E a terça-feira, 1º de dezembro, é “dia de doar”, data bem menos conhecida entre nós. Mas de onde, afinal, vem isso? Chegaremos lá. Antes, porém, vale observar que no sentido empregado aqui, o de atos filantrópicos, doações, assim como eleições, também são objeto de investigação científica. E costumam ser abordadas principalmente através de dois acessos: o neurológico e o sociológico.
A palavra filantropia, que se presta em português a uns tantos trocadilhos irônicos, vem do grego, é formada pela junção de filos mais antropos e, para começo de conversa, pode-se entendê-la como simples amor à humanidade. Posto isso, voltemos à abordagem científica – primeiramente neurocientífica – da filantropia e das doações em que, no Brasil, por exemplo, se destacam estudos de Jorge Moll e equipe.
Com apoio em larga medida de ferramentas de neuroimagem funcional (olhando o movimento), esses estudos têm buscado estabelecer uma série de correlações entre determinadas regiões e mecanismos cerebrais e comportamento social. Haveria uma espécie de organização cerebral da moralidade a que se vincularia, por exemplo, o chamado sistema neural de recompensas, aquele que nos faria experimentar uma significativa sensação de bem estar após uma doação ou outro ato de altruismo, etc.
Assim, num artigo publicado em 2018, “Altruistic decisions following penetrating traumatic brain injury” (em tradução livre, “Decisões altruístas após lesão cerebral traumática penetrante”), Moll e colegas, depois de observarem que “as investigações sobre os fundamentos neurais de decisões altruístas têm sido conduzidas principalmente em adultos saudáveis ”, informam que no estudo em questão propuseram-se a investigar decisões altruístas tomadas por pessoas que tinham sofrido alguma lesão cerebral.
E mais: em vez de se concentrarem na escolha por punição ou doação altruísta que cada voluntário faria, miraram uma “nova tarefa de decisão altruísta” que permitiria a opção dos voluntários entre investir anonimamente US $ 1 em 30 organizações filantrópicas reais, envolvidas com questões sociais importantes, ou ficar com o dinheiro para si. No experimento estavam 94 veteranos da Guerra do Vietnã, com padrões variáveis de lesão cerebral traumática penetrante, e 28 veteranos saudáveis que também serviram como combatentes e funcionariam como grupo de controle no estudo.
Os cientistas analisaram, então, as associações entre a distribuição das lesões no cérebro e o desempenho de cada um na tarefa por meio de uma técnica inovadora (regressão multivariada por vetores de suporte) que permite avaliar a contribuição conjunta de múltiplas regiões cerebrais na determinação de um dado comportamento de interesse.
Os achados? Para lá de interessantes. A depender da região do cérebro afetada pelas lesões se tinha o registro de mais punições ou de mais doações. As decisões altruístas não foram relacionadas a mudanças de personalidade pós-traumáticas. “Essas descobertas indicam que a punição e a doação altruísta são determinadas por regiões cerebrais em grande parte não sobrepostas, que foram anteriormente implicadas na cognição social e na experiência moral, como avaliações de intencionalidade e intuições de justiça e moralidade”, diz a parte final do resumo do artigo.
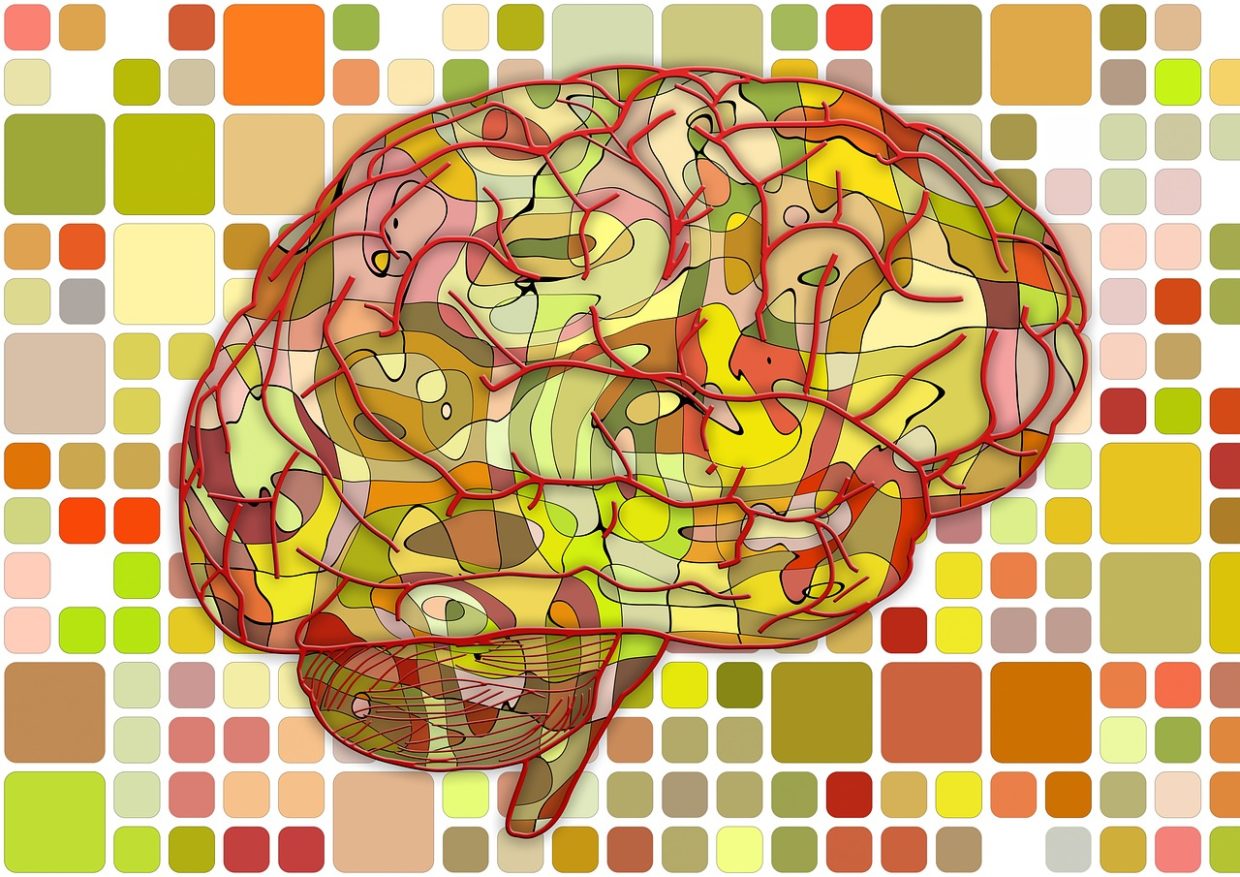
Gerd Altmann / Pixabay
Há uma série infindável de outros estudos que levam água para este moinho, que busca na materialidade, na geografia e na dinâmica funcional do cérebro, a origem de comportamentos generosos ou egoístas, usualmente apreciados numa métrica moral.
Vale citar, por exemplo, interessante comentário de dois pesquisadores suíços, Sebastian Gluth e Laura Fontanesi, publicado pela Science em março de 2016, “Wiring the altruistic brain: Communication between brain regions uncovers hidden motives for generous behavior” (em tradução livre, “Conectando o cérebro altruísta: comunicação entre regiões do cérebro revela motivos ocultos para um comportamento generoso”). Na verdade, eles remetem ao artigo publicado na mesma edição da revista por Grit Hein et all, “The brain’s functional network architecture reveals human motives” (“A arquitetura de rede funcional do cérebro revela motivos humanos”). Assim, vale a pena uma breve e prévia passada pelo resumo do paper de Hein e colegas antes de irmos aonde Gluth e Fontanesi querem nos levar.
“Comportamentos humanos voltados a metas são guiados por motivos. Motivos são, entretanto, construções puramente mentais, não diretamente observáveis”, dizem as duas primeiras frases. Mas o artigo, asseguram seus autores, mostra que a arquitetura em rede funcional do cérebro captura informações capazes de predizer, com alto grau de acurácia, diferentes motivações por trás de um mesmo ato altruísta.
O artigo propõe, e mostra numa figura relativa a comunicação entre distintas áreas do cérebro, que há conexões diferentes para o altruísmo baseado na empatia e para o altruísmo baseado na reciprocidade. Além disso, conclui que os indivíduos predominantemente egoístas apresentam arquiteturas funcionais distintas daquelas dos altruístas, e só aumentam seu comportamento altruísta em resposta a induções de empatia, nunca às de reciprocidade.
É aí que o comentário de Gluth e Fontanesi ajuda a tornar essas afirmações mais claras. “Na verdade, existem muitas razões para se comportar de forma altruísta, como ser movido pelo sofrimento de alguém (empatia) ou sentir-se obrigado a retribuir um favor (reciprocidade)”, observa. E “caracterizar os diferentes motivos subjacentes às nossas interações com outras pessoas” constitui, argumentam os autores, um dos maiores desafios para psicólogos sociais e neurocientistas.
Para induzir diferentes motivações ao altruísmo, Hein e colegas desenvolveram um projeto experimental extremamente complexo, primeiro para induzir o altruísmo por empatia ou por reciprocidade. E feita essa indução, numa segunda fase, ligada a alocação de dinheiro para algum dos parceiros, os participantes tiveram os cérebros escaneados por imagem de ressonância magnética funcional (fMRI), que usa mudanças no fluxo sanguíneo local como um indicador de mudanças na atividade neural. Os resultados do experimento abriram uma avenida inteira de possibilidades para explorar as motivações do altruísmo e da filantropia.
Diferenças sociais e culturais
O Dia de Doar começou nos Estados Unidos em 2012 e, já em 2013, teve sua primeira edição no Brasil. Adiante, passou a ser organizado pelo Movimento por uma Cultura de Doação, coalizão de organizações e pessoas que buscam incentivar a filantropia.
Segundo João Paulo Vergueiro, diretor executivo da Associação Brasileira dos Captadores de Recursos (ABCR), a mobilização foi minúscula no primeiro ano da realização. “Em 2014, já às vésperas da crise econômica, a campanha deu um salto, e 400 parceiros em todo o país se juntaram a ela, dentre indivíduos, empresas e organizações da sociedade civil (ONGs), alcançando quase 20 milhões de pessoas no país (ver https://www.escolaaberta3setor.org.br/post/o-brasil-e-a-solidariedade-em-tempos-de-crise-1)”.
Nesse mesmo artigo ele observa que, “segundo o World Giving Index – WGI (Índice Mundial da Solidariedade), são pelo menos 33 milhões os brasileiros que doam quantias em dinheiro para organizações da sociedade civil pelo menos uma vez por ano.
Parece muito, mas é pouco comparado com a cultura de doação que existe ao redor do mundo”, diz. Esses números se baseiam na pesquisa Um Retrato da Doação no Brasil, de fevereiro de 2014.
Entretanto, já em 2018, segundo a mesma pesquisa, realizada pela Charities Aid Foundation (Caf), representada no Brasil pelo Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social (Idis), “70% da população fez alguma doação em dinheiro e 52% doou para organizações sociais”. O percentual inclui “aqueles que deram esmola, pagaram dízimo, ou deram dinheiro a parentes e amigos”.
A pesquisa da Caf , organização britânica voltada ao investimento social privado, consultou 1.022 pessoas acima de 18 anos, moradores de cidades e com acesso à internet, entre 2 e 31 de agosto de 2018.
A pesquisa também mostrou que mais da metade das pessoas na amostra participou de pelo menos uma atividade cívica: 41% assinaram uma petição, 19% participaram de uma manifestação, 18% participaram de uma consulta pública, 9% aderiram a um grupo de pressão ou movimento social e 5% aderiram a partido político. Os mais jovens, com idade entre 18 e 34 anos, foram o grupo etário com maior tendência a participar de uma manifestação nos últimos 12 meses, ou seja, 24% deles. Esses jovens também se mostraram mais dispostos a aderir a um grupo de pressão ou movimento social: 13% contra 7% dos acima de 45 anos de idade.